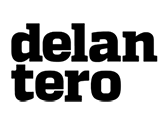Férias em Verona

PRIMEIRO ATO: O AR-CONDICIONADO NO 15 E A GENTE SUANDO.
– Pai, mas o carro é um ano mais velho que eu.
– Relaxa. A gente vai tunar.
Ele me comprou com essa promessa. A partir de então, ganhou um aliado. O ano era 2005, e Velozes e Furiosos era meu filme favorito. Seria impossível não topar.
A transferência tinha saído no final de outubro. Mais uma mudança de estado. A Marinha arcaria com todas as despesas e ainda daria cinco mil reais para a gente transportar um carro do Rio de Janeiro até Natal. No auge da nossa pior crise financeira, meu pai, um dos caras mais geniais que conheço, enxergou uma oportunidade:
– Eu vou comprar um carro de cinco mil, a Marinha me repassa a grana do transporte, e a gente vai pela estrada.
– Pai, mas com cinco mil o senhor consegue comprar o quê? E ainda tem as férias que a mamãe quer passar em Belém…
– Vai dar certo, já vi o carro. Tá novinho.
A conta não batia, por mais perfeita que fosse. Um carro de cinco mil reais não poderia fazer uma viagem de cinco mil quilômetros, do Rio de Janeiro para Belém, dali para Natal. Hoje, quase doze anos depois disso, posso ver perfeitamente que a genialidade desse plano perfeito só durava o primeiro ato. Se fosse em La Casa de Papel, o Professor tinha sido pego no primeiro episódio.
A máquina era um Ford Verona 92 vinho, uma espécie de ancestral do Classic. Pertencia a uma professora de inglês que saía de Copacabana às dez da manhã e voltava pra casa às quatro da tarde, nada além disso. Realmente, estava em bom estado. Um dia desses, meu pai me contou que o carro não estava à venda na época. Ele que insistiu por meses pra mulher vender. O que só piora. Foi tudo premeditado.
– Ei, mas esse carro tem pelo menos ar-condicionado? – Essa era a única condição da minha mãe. Além da instalação de uma película bem escura pra ninguém ver que ela estava dentro.
– Tem sim, a dona disse que às vezes dirige de casaco. – O coroa era rápido, o melhor negociador que eu vi na vida.
SEGUNDO ATO: NASCE UM GÊNIO, MORRE UM MOTOR.
Tenho uma teoria não comprovada que diz: quando um gênio nasce, Deus tira toda a sorte dele e o larga em um mundo aquém do seu próprio talento. Infelizmente, o dom do meu pai era fazer gambiarra e isso não gerou muitos lucros financeiros durante a vida. Como ele optou por um caminho dentro da lei, vivíamos nos equilibrando nesse slack line de pagar as contas ou viver grandes histórias. E essa foi a melhor delas.
Era dia 20 de dezembro de 2005. O tuning prometido se resumiu à instalação de um kit gás, novidade na época, as tais películas escuras e um jogo novo de pneus. A verba para a viagem se limitava a chegar em Belém na véspera do Natal. A instalação do GNV nos economizaria uma boa grana. Estávamos otimistas: eu, com a minha aventura, minha mãe, feliz com o ar-condicionado, já havia soterrado o estepe com as suas malas. Minha irmã já tinha até inventado um apelido carinhoso pro carro. Partimos.
O Feinho segurava bem. Com seu motorzão 1.6 ap, subimos a serra em direção a Minas Gerais até rápido. Meu pai insistia pra gente ir com os vidros abertos para respirar o ar puro do campo. Lá para o final da noite, descobrimos que era mais uma estratégia para omitir o fato de o ar-condicionado ter quebrado uns dois dias antes da viagem. Foi triste quando a minha mãe descobriu.
Chegamos à capital mineira às onze da manhã do outro dia. Fomos muito bem recebidos pelos 2 milhões de habitantes de BH. Pegamos um engarrafamento na BR de pelo menos uns 10 quilômetros. O ritmo lento do trânsito deixava o carro arquejando. E morria com mais frequência do que protagonista de Game of Thrones. Felizmente ou não, todo carro velho tem um sistema de partida fria, chamado popularmente de “afogador”. Uma alavanca que, ao ser acionada, libera um pouco de gasolina para enriquecer a mistura de combustível e o carro não estancar. Adivinha como aprendi isso? Meu pai já tinha puxado essa alavanca umas doze bilhões de vezes naquela manhã. E do mesmo jeito que o David Luiz depois do 3º gol da Alemanha, uma hora ela parou de cumprir sua função.
– Uai sô, tá pingano ói dess treim aí – O cara do carro do lado avisou.
– O quê? – Minha mãe, respondeu do banco do carona.
– Uai, tavenonão? Aí ó. – Repetiu, projetando o queixo em direção a uma poça no chão.
– Pai, eu acho que ele tá dizendo que tá vazando óleo.
No mesmo instante em que compreendemos o dialeto do homem, meu pai viu uma fumaça e já saiu do carro correndo com o extintor na mão. Coisa boba: a mangueira que levava a gasolina do reservatório do afogador ao carburador se rompeu. Fazia um tempo que o combustível estava sendo jogado em cima do motor quente. Resumindo, mais alguns segundos e o fogo poderia entrar no sistema do GNV. E esse texto nunca existiria.
TERCEIRO ATO: SEPARANDO MENINOS DOS HOMENS COM FITA ISOLANTE.
Imagine comigo agora a cena: minha irmã catatônica, estilo Chaves, não movia um músculo da face. Minha mãe, por outro lado, movia todos, xingando o carro com todo o ódio que tinha naquele coraçãozinho. E eu? Eu estava em pé, do lado do meu pai, vendo o motor coberto de pó branco do extintor.
– Puta que pariu, pai, que merda do caralho.
– Olha a boca, porra.
O cara do carro do lado desceu já com a mão na cabeça.
– Ei moss, queimô aí. Num pode ligá denovonão. Aqui do ladin tem o Ceasa, descelá, rapidin, tem mecânico.
– Tu ajuda a empurrar aqui?
– Moss, sabe o que é? Tô mei atrasado, e mêi que num vô poder não. Mas o menino aí ajudocê.
O menino era eu. Naquela altura do campeonato, minha mãe só empurraria aquele carro se fosse em direção a um despenhadeiro, uma fogueira ou um pântano. Meu pai olhou pra mim, balançou a cabeça, botou o carro em ponto morto e pediu pra eu empurrar até uma descida que levava ao tal Ceasa.
Mais de quinhentos reais era o prejuízo, segundo o mecânico. Mangotes, cabos, alguns fios da parte elétrica e reservatórios tinham queimado. É claro que meu pai não tinha essa grana sobrando. E é lógico que o carro não tinha seguro. Amigo, a situação era difícil e a gente era, definitivamente, muito inconsequente.
– Irmão, o que tu consegue fazer com duzentos conto? – O mecânico passou a mão queixo, mexeu num pedaço de fio queimado.
– Rapaz, dá pra trocar a metade das coisa. – Meu pai olhou para o papel onde ele tinha anotado o que precisava ser consertado, e com a genialidade que tinha sobrado do plano da compra do carro, montou uma nova estratégia.
Com uns vinte reais, ele comprou um rolo de fita isolante, um pacote de Durepox, dois tubos de cola de silicone e um pedaço de mangueira de jardim. Deu os duzentos pro velho e pediu pra ele resolver o que pudesse. Chupa essa, Mcgyver.
Com cinco horas naquela Ceasa, já tínhamos comido uma feira livre todinha de frutas. O velho trouxe o que os duzentos puderam pagar. Como um time, se organizaram e dividiram suas funções. O reservatório do limpador de parabrisas, que tinha sido “refeito” com durepox, parecia uma escultura hippie de algum aluno de Humanas. Alguns cabos pareciam um tatame: tinha silver tape pra todo lado. A aparência era horrível, mas precisava dar certo. Ainda tínhamos 2.000 quilômetros pela frente.
ÚLTIMO ATO: SEJA O QUE DEUS QUISER.
Já entrando pela madrugada, eles se olharam e, em um gesto sincronizado, acenaram com a cabeça um ao outro. Tinham terminado de jogar uma solução de água e sabão pra tentar tirar o que sobrou de gasolina de cima dos componentes. Esperaram secar e iniciaram os procedimentos. A cena era inesquecível, parecia uma cirurgia: o capô aberto, o velho segurando a lanterna. E o meu pai sério. Então ele virou pra mim, jogou o extintor quase vazio e disse:
– Vou dar a partida aqui, se sair fogo, tu aperta.
Tensão. Close na mão girando a chave na ignição. Trilha de O Tubarão. O velho deu a partida. Nenhum sinal de fogo. Nem do carro ligar. Estava frio e puxar o afogador não era uma opção. Fechamos o capô e tiramos todas as sessenta e duas malas de dentro do Verona. Meu pai olhou pra minha mãe e disse:
– Vamos fazer pegar no tranco. Fiquem de olho, se quando ligar sair fumaça, vocês gritam que eu vou sair correndo e deixar essa porra explodir.
Imaginei aquelas cenas de filme de ação, em que o cara abandona a casa em chamas e caminha em slow em direção à câmera. Só que, infelizmente, não era tão legal imaginar meu pai, de um metro e sessenta e com uma barriguinha considerável, que já corria naturalmente em slow, com a cara toda suja de graxa e o Feinho pegando fogo lá atrás.
O carro ligou na segunda tentativa. Ele parou, e vi algo que até hoje não sei dizer se era uma lágrima ou suor. Saiu do carro correndo e deixou-o lá ligado. Sozinho, de castigo.
– Vou deixar essa porra ligada aí uns dez minutos. Se não explodir, é nosso.
Minutos depois, estávamos sentados tranquilamente dentro daquela bomba, procurando algum hotel pra dormir depois daquele longo dia. Lembro da minha mãe com tanto ódio que não conseguia dar uma palavra que não fosse duramente censurada na TV aberta. Minha irmã dormia abraçada a uma melancia que, misteriosamente, apareceu dentro do carro. Agora, eu estava sentado no banco da frente. Tinha conquistado esse posto depois de ter ajudado no reservatório de Durepox, com um olho na agulha da temperatura e outro olho no capô. Meu pai dirigia calado, calmo, mordendo a bochecha. A mão ainda estava preta de fuligem e o calção branco da Penalty, que jamais voltaria a ser branco de novo, estava com uma tonalidade irreconhecível. O cd do Robinson Anjo tocava bem baixinho o refrão de “Pra sempre vou te amar” quando ele virou pra mim, deu uma respirada alta e disse:
– A gente tem muita sorte, né?
Flávio Salzer, head of art da Agência Delantero.